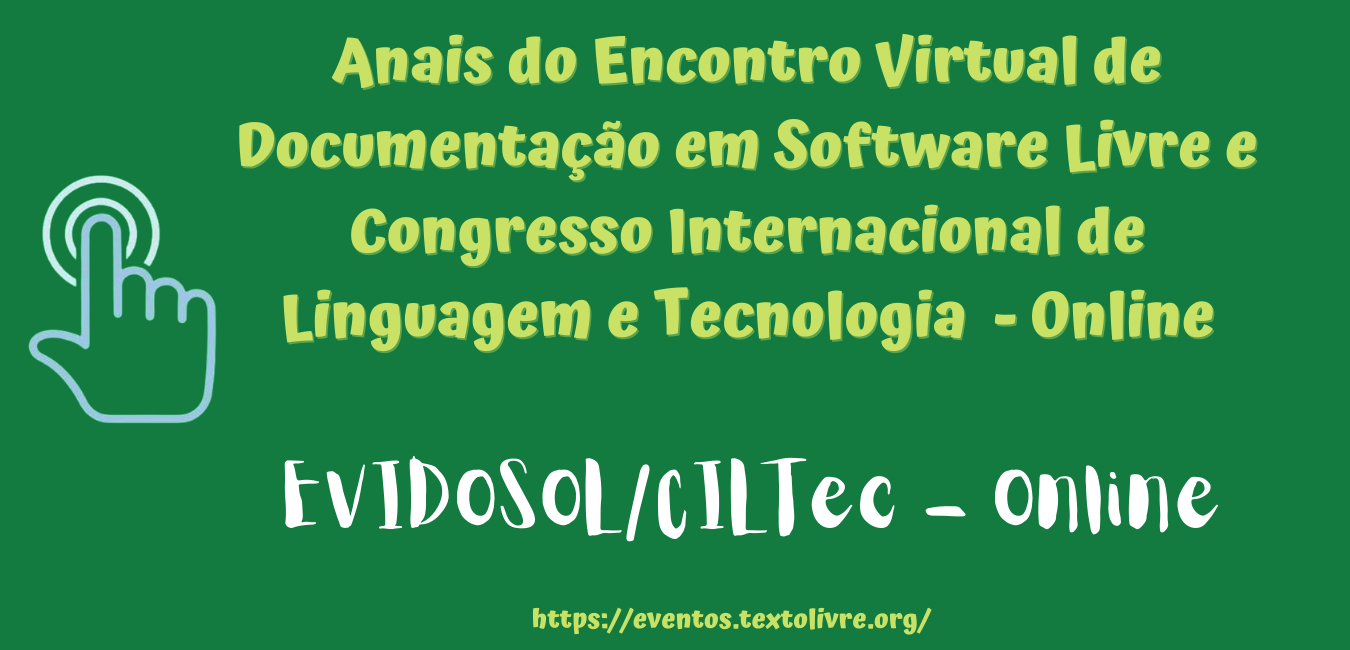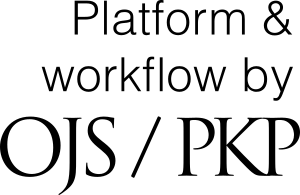PODE A PESSOA AUTISTA SE COMUNICAR?
Palavras-chave:
autismo, mito da linguagem, comunicação, educação, subalternidadeResumo
O objetivo desta apresentação é propor uma reflexão sobre autismo, linguagem e comunicação a partir de alguns referenciais teóricos tanto quanto de falas de pessoas autistas. Mais especificamente, o presente título é inspirado no texto 'Pode o subalterno falar?' de Spivak (2010) , no qual a autora explicita certa armadilha posta para pessoas consideradas subalternas, em que suas falas passam a ser sistematicamente desconsideradas independente das estratégias utilizadas para se fazer ouvir. Além disso, remete-se também ao trabalho 'Autistas falam, mas eles são ouvidos?' de Milton e Bracher (2013). Os autores apontam que, mesmo já existindo uma produção autoral de autistas, é um material que, quando muito, tende a ser tomado na academia por matéria-prima a ser escrutinada externamente por especialistas não autistas. Questiona-se certo imaginário sobre o autismo que tende a se restringir a crianças brancas do sexo masculino que não falam e cujas vidas supostamente se resumiriam a insistir isoladamente em movimentos repetitivos. Imaginário que, academicamente inconsistente e ultrapassado, exclui e invisibiliza a heterogeneidade constitutiva do espectro, a qual inclui falantes, pessoas adultas, pessoas trans, mulheres, pessoas não brancas, entre outras. No que diz respeito à linguagem, remete-se ainda à consideração de Roy Harris (2002) sobre a vigência de certo 'mito da linguagem' e da comunicação. Ou seja, ainda é hegemônica certa visão de transparência comunicacional, na qual um emissor codifica uma mensagem com base em um código fixo universalmente compartilhado e envia a certo receptor que, tendo supostamente domínio do mesmo aparato linguístico, decodifica a mensagem em questão. Uma consequência de tomarmos a linguagem a partir dessa perspectiva é a de considerarmos ingenuamente haver certa 'completude' no código linguístico, o qual existiria em abstrato, para além da contingência das práticas e das relações sempre emergentes. Partir dessa ideia, argumento, é que traz, por consequência, uma visão de que autistas estariam em 'déficit' em termos linguísticos, apenas por utilizarem a linguagem de forma diferente de certas convenções hegemônicas e já decantadas em nossas relações sociais. Além de duas citações de pessoas autistas que servem de ilustração para os questionamentos postos, recupera-se brevemente, ainda, algumas ponderações de Rebeca Woods (2018). Em um trabalho que se debruça sobre autismo no contexto escolar, a autora mostra que a expressividade de autistas tende a ser lida como ruído ou barulho, ou seja, tende a chamar a atenção como algo que foge do esperado para o contexto escolar. Em contrapartida, boa parte da atmosfera ruidosa constitutiva do ambiente escolar e que resulta da expressividade de estudantes não autistas sequer é percebida, ou seja, é um 'barulho' que nem é ouvido, quanto mais percebido enquanto tal. Tendo levado tudo isso em consideração, finalizo argumentando ser necessário colocar em xeque certas noções vigentes de autismo e linguagem, as quais invisibilizam e subalternizam pessoas autistas – sejam elas oralizadas ou não. E, além disso, sugiro a necessidade de se praticar a escuta em relação àquilo que autistas já tem dito publicamente tanto sobre autismo, quanto sobre linguagem.
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Categorias
Licença
Copyright (c) 2021 Luiz Henrique Magnani

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Este é um artigo em acesso aberto que permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio desde que o artigo original seja devidamente citado.